o blog que dá crise renal em quem não tem crise de consciência. comunicação, marketing, publicidade, jornalismo, política. crítica de cultura e idéias. assuntos quentes tratados sem assopro. bem vindo, mas cuidado para não se queimar. em último caso, bom humor é sempre melhor do que pomada de cacau.
quinta-feira, janeiro 29, 2015
eu comi à "fatima bernardes"; e achei uma merda. teria sido isto alguma surpresa ?
manuais de marketing que se diziam inovadores há algumas décadas davam como certa a "receita": o mercado é suficientemente generoso para a primeira e segunda marca. a terceira já aí não. nem sequer terá pinta de amante de segunda.
isto posto, a seara sempre foi ali o patusco da história, já que sadia e perdigão abocanhavam-se primeiro e segundos o mercado de comidas pré-prontas, e análogos, similares, bem você sabe, aquela merda toda que você come, se engasga, e quando não vomita, caga em nome da falta de tempo e da falsa comodidade.
com a fusão entre sadia e perdigão, a segunda tornou-se perdigoto, e a seara vislumbrou a oportunidade de ser a segunda da vez ou de vez, como preferirem.
isto posto, pra "receita" não desandar, chamaram o precursor do micro-ondas, o sir olivetto, que andava em banho maria no posto de chairman da mccann, aquela agência que toda vida manteve a " receita" do fogo brando forever.
washington, aquele que ficou conhecido por transformar pão velho em bruschettas, hoje mais voltado a função de maitre na má serventia de textos que se encaixam direitinho na modalidade planejamento que vai direto ao ralo, arregaçou: " nossa ideia para seara é de que a campanha tenha um misto da persuasão da propaganda com a credibilidade do jornalismo, e não existe ninguém melhor do que a fatima para sintetizar esta proposta". caralho! dizer que fatima é um ex-libris da credibilidade do jornalismo? por mais que o jornalismo esteja ao nível de guardanapo, de papel of course, é coisa que o olivetto dos bons tempos não diria nem bebum no martinez - se você não sabe o que é o martinez, você também merece comer a salsicha da fátima por outras vias "do fato".
os manuais também dizem - e olivetto repetiu a "receita" no prato principal e na sobremesa até se fartar - que se a persuasão conduzir à experimentação é apenas começo do repasto, pois se a experimentação não corresponde ao que alardeia não se chega a sobremesa, e as vezes nem ao segundo prato. " a receita ", o efeito inverso(a decepção, a frustração, o desencanto) é pior do que a peidorrenta disenteria provocada pela ingestão de ovo podre.
ao buscar o caminho, hoje e sempre, aparentemente mais fácil - mas só aparentemente, porque campanhas de endorsment existem aos milhões porém contam-se as unidades que demonstraram eficácia, criatividade e sinergia com a verdade, seja qual for, do anunciado (o que não é, definitivamente, o caso desta. pois a fatima empresta da sua "credibilidade" apenas o esgar já que seu sorriso nunca traz a leitura da espontaneidade,o que é fatal em endorsments) e assim dito, pelo gogó no endorsment de personalidade - hoje, esvaziados dizem-se de dita famosidade - trouxe para os embutidos da seara um vento a favor do efeito bumerangue, que no meu caso veio em forma de forma de pizza(argh!). e não adianta acrescentar, acercar-se de especialistas que comeram cachorro quente na finlandia, personal responsáveis por dietas saudáveis ?!?!? e cazzos bam-bam-bans da pasta, porque na hora da verdade da mesa, nem o bonner consegue comer à fatima bernardes. e não se pode culpá-lo por ter um caso com uma outra marca que não seja a da sua mulher.
portanto, a "receita" vale na mesa e, provavelmente, na cama: não prometa/ofereça o que você não pode - ou não quer dar - não faça a surpresa ser negativa. se não tem bumbum, nada de calças para aparentar tê-lo; se não tem peito, nada de sutiã com recheio. se tem o pau pequeno, nada de dizer que tem os "pés grandes". improvise e, ai sim, surpreenda. não se trata de tirar a azeitona da pizza ou onde lá que seja de ninguém. trata-se de usar a azeitona para se ficar lambendo os beiços e não para cuspir caroço.
a seara já na embalagem não surpreende ninguém. embalagem aberta então, a comparação com produto e propaganda mais sadia é imediata e inevitável.
isto posto, nesta seara toda, a sadia sabe que é mesmo, de verdade, mais gostosa. e isso não é surpresa alguma para o consumidor. surpresa mesmo, sim, seria, se as " receitas" da fatima fossem, como alega ser, realmente surpreendentes.
mas quem acredita no surpreendente hoje no jornalismo e na propaganda brasileira? só publicitário mesmo. e olhe lá. porque jornalista já sabe de há muito que tudo acaba em pizza. agora, da seara, é mais ainda pra se foder.
in tempo: quando a pizza, para horror dos puristas, não vai nem com mostarda à granel, e ketchup de balde, para não falar da coca-cola de 4 litros, é porque fodeu geral. não se atreva a vitimar o vira-lata que ronda a sua mesa
quarta-feira, janeiro 21, 2015
não é pra me gambar não. mas desde 2004 nisto bato pé - para minha trajetória na propaganda ser ainda mais impopular?
.... para finalizar, gostaria que você expressasse um desejo ou sonho que gostaria de ver realizado na propaganda brasileira.
eu gostaria que a propaganda brasileira nos próximos anos (2010, 11,12,13,14...) progredisse tanto, mas tanto, a ponto de alcançar os padrões de excelência criativa e respeito negocial dos anos oitenta do século passado.
washington olivetto: in propaganda popular brasileira, do guilherme azevedo, editora senac.
terça-feira, janeiro 20, 2015
" me envergonha ser publicitário " - originalmente publicado em 05/12/2007 e republicado por estar ainda a frente do nosso mísero tempo*


Oi. Desculpe interferir na sua navegação. É que a gente queria dizer, assim, umas palavras, quer dizer, umas palavrinhas sobre o Ercílio Tranjan, para apresentá-lo ao senhor, à senhora. Mas se o senhor, a senhora preferir dar a setinha para baixo, no teclado, ou rolar a barra, para descer, tudo bem, a gente não leva a mal, a gente entende.
Bem. O Ercílio Tranjan é publicitário e um grande sujeito, apesar dessa cara, barba e jeito de terrorista árabe. Ele já conquistou 11 Leões em Cannes, na área de filmes. Leão? É o nome que se dá ao prêmio máximo do festival publicitário mais conhecido e cobiçado do mundo, na cidade de Cannes, na França. Porque o troféu tem a forma de um leão. Só para o senhor, a senhora ter uma idéia, muito publicitário preferiria um Leão mentiroso e fajuto em Cannes do que uma Leoa bela, inteligente e sincera aqui mesmo, no Brasil. A gente custa, mas entende. E esses Leões que o Ercílio ganhou foram todos Leões de verdade, com pedigree e tudo. Não eram peças de ficção, não. O senhor, a senhora, se tão velho (velho, não, experiente) quanto a gente, vai lembrar de alguns, porque todos eles passaram na tevê do Brasil, fizeram um sucesso danado. Digo isso, meu senhor, minha senhora, porque tem muito comercial que ganha lá em Cannes, e a gente nunca viu, nunca passou na tevê da gente. Era só para ver se laçava fácil um Leão. Era filme criado, meu senhor, minha senhora, sem um pedido de criação do cliente, sem que tivesse de falar sobre essas e essas características do produto, sem um desafio de mercado. Então o publicitário, dizem, fica à vontade para inventar, fingir e exibir toda a sua genialidade. Mas essa já é uma outra história.
O que a gente quer dizer é que o Ercílio foi considerado um dos 50 publicitários mais importantes da propaganda no Brasil, nas últimas décadas. Ah, e o Ercílio, bem aqui na frente da gente, pede para não continuar, está todo vermelho, ruborizado, por detrás da barba hoje grisalha, como se fora moça pubescente. Mas é verdade. Como é verdade também, meu senhor, minha senhora, que ele já foi diretor de criação de algumas das melhores agências de propaganda do país, Denison, MPM, Almap, Lintas. E isso ainda é pouco: o Ercílio, quando faz um anúncio, um comercial, ele respeita a inteligência da gente, a gente sai do anúncio, do comercial com um sorriso gostoso porque reconhece a inteligência, a ironia, o bom humor ali. O senhor, a senhora se preocupa muito com o que o seu filho, o filho da gente anda vendo na tevê, os perigos da má propaganda, não se preocupa? Fique tranqüilo: se é do Ercílio, é bom, é responsável, é ético. Ele não vai mentir para a gente, para o filho da gente, para tentar vender um produto ou ganhar um Leão meio banguela. Claro que ele vai tentar convencer a gente, claro que vai; afinal, é da profissão dele. Mas, quando conquistar, vai ser porque a gente se sentiu respeitado, porque aquilo, o anúncio, o comercial, continha algo de verdade e de dignidade por que a gente vai querer pagar, e sorrindo. Ah, Ercílio, que bobagem! Está aqui, mais uma vez, se escondendo atrás da barba, agora como um índio atrás da mata, na chegada de um português barbudo e sujo numa praia de 1500. Já está acabando, Ercílio, já está acabando.
É engraçado notar, também, meu senhor, minha senhora, como o Ercílio se interessa e quer aprender com a gente. E quando a gente pergunta, ele ouve com uma atenção, como se a gente é que fosse dizer algo inteligente, e não ele: “É mesmo? Você acha isso?”; “Acho que você tem razão”. E sempre que imagina que a gente está com cara de quem não está entendendo nada (é que a gente é meio lerdo, mesmo, desculpe), ele explica tudo de novo, por um outro lado, numa resposta que se lê como um palín... o quê? Pa-lín-dro-mo: que se lê de trás para a frente da mesma forma que se lê de frente para trás. Como este aqui, aliás, escrito pelo Ercílio, um mestre nessa arte de lavrar a palavra-alma: “Servil, só acata. E ataca os livres”. Na palavra, sabedoria de mão dupla. Bem. O senhor, a senhora desculpe, por favor, essa abertura assim já meio longa. É que o Ercílio já fez tanta coisa, nesses mais de 60 anos de vida, que fica difícil falar pouco. Obrigado pela paciência e pela oportunidade.
P.S.: Ah, só mais uma palavrinha, ia me esquecendo: o Ercílio é, desde 2006, um dos sócios da agência de propaganda Ímã, em São Paulo, ao lado do Hélio Oliveira e do Gabriel Marques. Se quiser, meu senhor, minha senhora, liga para ele: (11) 3034 1977.
Agora, Ercílio, você vai ter que falar.
Veja “A propaganda do futuro começa no passado”, por Ercílio Tranjan:
Agora, acompanha a entrevista. Pode sentar, meu senhor, minha senhora, a casa é sua:
Jornalirismo – Gostaria de começar falando sobre a ousadia e a inteligência na propaganda. Parece que é unânime entre os publicitários, pelo menos entre os mais experientes, que houve uma perda de irreverência, de inteligência, uma propaganda que não parece comprometida com uma comunicação límpida, clara e que respeite o consumidor. Gostaria de saber o que você pensa a esse respeito.
Ercílio Tranjan – O que, para mim, é muito assustador é que está havendo um tipo de comunicação que considero extremamente infantil. Ou seja, estão imbecilizando o consumidor de uma forma que eu nunca vi. E é interessante que isso se deu nesta direção contrária: quando se começou a fazer propaganda apenas visando festival internacional, o que se começou a ver na propaganda no ar foi a idiotice mais absoluta. Uma infantilização total da comunicação. Como se, de repente, todo o público estivesse fazendo 12 anos, 14 anos. O tipo de humor, é tudo um humor, sem nenhuma conotação negativa nisso, mas é um humor dos Trapalhões, de tapa na cara um do outro, de situações mais de escorregar em casca de banana. Não tem nenhuma graça sutil. Não se deixa nada para a compreensão do espectador, para que o espectador possa preencher os brancos e contribuir. Isso, por um lado. Por outro lado, eu também não vejo mais uma coisa que a propaganda brasileira tinha muito, e nisso era muito semelhante ou tentava, com caminhos brasileiros, falando uma língua brasileira, mas ela tinha como conteúdo algo da propaganda inglesa, que era saber rir de si mesmo. Ou seja, o produto nunca era colocado como a grande solução, “o melhor do mundo”. Tinha uma visão de falar eu estou aí. Acho que a campanha de Bombril, a primeira, do Washington [Washington Olivetto; a primeira campanha do Garoto Bombril, criada por Olivetto, em parceria com o diretor de arte Francesc Petit, o P da DPZ, em 1978], acho que as duas, três primeiras campanhas também, tinham muito disso, quer dizer, aquele jeito de pedir licença para entrar na casa. Isso, a propaganda inglesa trouxe. O inglês não aceita muito o vendedor, o vendedor é meio invasivo. Então, eu precisava dar a você alguma coisa, precisava entrar na sua casa e pedir licença. E vem daí essa história de eu não me levar tão a sério. “Olha, eu estou aqui, querendo conversar com você...” Era um tipo de comunicação que o Brasil tinha e exercia muito, que era o de brincar consigo mesmo.
Jornalirismo – Por que acabou se abandonando esse tipo de procedimento?
Ercílio Tranjan – Eu tento entender de várias maneiras. Acho que nada disso é gratuito. Outro dia falei que a propaganda não é vanguarda de nada. É a primeira coisa que a gente tem de entender. Ela utiliza um discurso consagrado. A vanguarda é aquela que rompe. Se eu rompo, eu me comunico menos, eu vou ser entendido por menos pessoas. E não é a nossa função. Por trás, nós temos uma intenção, de fato nós trabalhamos para o sistema, para vender alguma coisa, e não para inventar linguagens. Tendo a achar que nós estamos seguindo, de novo, uma linha, vejo esses blockbusters [as grandes produções à Hollywood] de cinema, e fico alarmado. São filmes, em geral, muito burros. E muito primários, muito de ação. Trocou-se, no roteiro, o diálogo e a inteligência pela ação. O número de porradas que se dá, o número de perseguições que ocorre. Assim têm sido os grandes blockbusters. Não que o grande blockbuster do passado fosse o filme do Antonioni [o cineasta italiano Michelangelo Antonioni, que dirigiu filmes como A Aventura, A Noite e O Eclipse, de cunho existencialista, de tomadas mais longas e mais lentas], mas eram filmes com um pouco mais de inteligência e criatividade de roteiro. Em que não havia só ação. Nós tínhamos tempo para ouvir um bom diálogo, ou seja, o tempo do filme era uma coisa menos frenética, menos violenta do que é hoje. Isso ocorre na linguagem que é do cinema – e percebo isso também na publicidade, porque a publicidade, como caudatária, trilhou esse caminho. Só não sei se os consumidores estão felizes com o que eles recebem no ar. Eu fico perplexo. Eu acho assim: nós tínhamos, nos intervalos, um pouco mais de respeito pelo consumidor e pela inteligência dele. Hoje, a gente vê muita gritaria, que é coisa burra, ou então um humor totalmente infantil.
Jornalirismo – Muita propaganda de varejo?
Ercílio Tranjan – O varejo dominou muito como verba. Os maiores orçamentos de propaganda, claramente se vê isso, hoje estão no varejo. E você vê também que muitos anunciantes pequenos e médios foram perdendo poder aquisitivo para estar na televisão. Eles foram desviados disso. Mas não sei dizer exatamente qual foi a causa que levou a isso. Eu falo: “Meu Deus do céu...”. E não é uma visão passadista, não. É o contrário: o que se está fazendo hoje é que acho absolutamente passado. Estamos indo para trás do tempo em que a DDB fez a revolução na propaganda, terminou com o ponto de exclamação e tudo o mais [a revolução criativa iniciada por Bill Bernbach e sua equipe na DDB, Doyle, Dale, Bernbach, de Nova York, no fim dos anos cinqüenta e início dos anos sessenta, rompendo com a propaganda eminentemente informativa]. A propaganda recuou, foi lá para trás.
Jornalirismo – Quando a propaganda abandona um pouco esse discurso mais gentil, um discurso até mais honesto, e quando também abdica um pouco da sua clareza, da sua capacidade de esclarecimento, a propaganda não acaba causando mais mal do que bem para a sociedade? Ela tem uma capacidade grande de persuasão – e de esclarecimento também.
Ercílio Tranjan – Acho que sim. Uma vez, faz bastante tempo, fiz uma palestra na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E o tema era: “O que há de novo na propaganda?”. Faz alguns anos, mas nem tanto. E eu mostrava os anúncios da Volkswagen dos anos sessenta, da DDB. Onde todos, da minha geração, nos formamos e aprendemos. E me surpreendi com o seguinte: primeiro, no que chamo de uma palestra de alto risco, porque, já naquela época, todo mundo mostrava rolo de comercial. O comercial, como ele tem ação, permite que você extraia a risada, emocione com mais facilidade do que com um anúncio fixo, parado, de revista. Não obstante, percebi que as pessoas desconheciam aqueles anúncios dos anos sessenta e, como estavam tendo contato com aquilo pela primeira vez, riam e se emocionavam. Falei: “Meu Deus do céu!”. Quer dizer, é possível ter uma linguagem em que você respeite a inteligência do consumidor. Acho que a DDB descobriu o que o Brecht [Bertold Brecht, dramaturgo alemão (1898-1956), autor de obras como Ópera dos Três Vinténs e Baal] sabia. Não existe essa coisa dividida, ou fala para o emocional, ou fala para a inteligência. O Brecht tinha uma coisa muito bonita, que ele dizia assim: “Não há emoção maior do que a de uma criança, quando realmente entende que 2 + 2 são 4”. É uma tremenda emoção isso, e é uma dificuldade absolutamente racional. Acho que a DDB usava muito isso. Você olhava os anúncios e vinha um sorriso. Na hora em que você vê um ovo desenhado e, atrás do ovo, descobre que tem um Volkswagen, e falam assim, “Algumas formas são impossíveis de aprimorar”, você fala: “Meu Deus do céu, ele está me respeitando, ele está falando com uma pessoa inteligente”. E, no fato de eu passar a me achar inteligente, eu estou comprando aquilo, aquela idéia. Eu estou aberto para discutir. Discussões que vêm até hoje: “Ah, ninguém lê texto!”. Não lê? Depende. Se eu estou interessado em comprar carro naquele momento, eu vou ler. É uma discussão recorrente, já ficou todo mundo rouco [risos].
Jornalirismo – Isso, de que ninguém lê texto: o maior acontecimento cultural, filosófico e até econômico do mundo é a Bíblia, e quase não tem figura lá. Com exceção da Bíblia ilustrada, que alguém, de vez em quando, compra. [risos]
Ercílio Tranjan – Pois é. Porque, se estiver interessado naquilo, se o assunto me interessar, se a chamada me interessar, claro que leio. Não lê se não tiver nenhum interesse. Aí, é outra história.
denison.jpg
Jornalirismo – Queria seguir pela questão da responsabilidade da propaganda. Tem aquele famoso anúncio da Denison, que você costuma citar: “Na hora de fazer um anúncio, pense que o seu filho pode acreditar nele”. Você acha que os publicitários de hoje estão pensando nos filhos deles quando criam alguma coisa?
Ercílio Tranjan – A minha sensação é a de que não. Acho que houve uma mudança de postura ética muito evidente para mim. Que também não é só a publicidade que sofreu. A publicidade tende a espelhar isso com mais clareza. Hoje, vejo campanhas que não têm nada a ver comigo. Essas pessoas [que pertencem a entidades de propaganda, veículos, anunciantes, agências etc.] não me representam. Eu não gostaria de ver assinado, de estar escrito que é publicitário. Ou seja, eu me envergonho de ser publicitário. Vou falar claramente. Tem uma campanha no ar, acho que até já saiu, mas que dizia assim: “Como tem gente chata, que fica se metendo em tudo”. São comerciais dizendo assim: “Ah, eles querem que a gente diga tudo na embalagem”. No fundo, o que dizia era isso. É coisa da ABP [Associação Brasileira de Propaganda. A campanha se intitula “Toda censura é burra” e foi criada pela Giovanni+DraftFCB pelos 70 anos da ABP. Contempla televisão, rádio, mídia impressa (jornais e revistas) e mídia exterior, além de hotsite, que você conhece aqui, http://www.censuraburra.com.br/. Os três filmes (“Banana”, “Bola” e “Lápis”, veja abaixo) televisionados se encerram com um locutor, em off, que diz assim: “Tem gente que vê problema em tudo, né? E acaba prejudicando o seu direito à boa comunicação. ABP. 70 anos defendendo a liberdade da nossa propaganda”]. Como se fosse chato alguém querer que o produto informe, seja verdadeiro, como se isso fosse impeditivo para a criatividade. Essa é a grande mentira.
Assista ao comercial Lápis, da campanha “Toda censura é burra”, da ABP:
Tem um outro anúncio, a que nem muito me refiro, que a gente fez. Na década de setenta, estava muito em moda o Ralph Nader [advogado norte-americano que se transformou em símbolo da luta pelos direitos do consumidor dos Estados Unidos; ganhou projeção, pela primeira vez, em 1965, com o lançamento do livro Unsafe at Any Speed, com acusações formais contra a indústria automobilística por supostamente construir carros inseguros de se guiar. Saiba mais sobre Ralph Nader no site dele: http://www.nader.org], estavam começando as grandes lutas do consumidor norte-americano. E esse outro anúncio que a gente fez foi com ele, dizendo assim: “A propaganda tem insistido em dar razão para ele”. A idéia era a seguinte: a gente deveria querer ver esse cara longe, mas, para vê-lo longe, a gente deveria tratar bem e respeitar o consumidor. Esse era o escopo. Hoje, é o contrário, como se isso fosse chato. Ou seja, o publicitário virou defensor de vender bebida alcoólica às 7 horas da noite. Parou de perceber que aquilo é um dano que ele também está ajudando a fazer. Espera lá, não é? Se há uma pessoa que respeita minha profissão sou eu, eu vivo disso, sempre vivi disso. Só acho que há maneiras éticas e responsáveis de fazer. Estou achando que as pessoas perderam isso. Se você falar esse discurso hoje, ou está velho, ou é visto como o discurso de quem está contra. O duro, para mim, é alguém achar que responsabilidade, ter uma visão responsável é contrário à idéia de criatividade. Isso é completamente absurdo. Eu sou irreverente para burro, adoro uma boa piada, adoro brincar com tudo, desde que eu não invada o direito dos outros, que não abra feridas e chagas na sociedade. Há um limite.
Jornalirismo – A propaganda, quando também abriu mão de um discurso mais ético, essa coisa de vender a qualquer preço, ela também acabou perdendo muito da sua credibilidade. Hoje, a propaganda não tem credibilidade alguma. Não estão dando tiro no pé de todo o mundo, anunciantes, publicitários?
Ercílio Tranjan – Acho, sim. Essa busca desenfreada por disfarçar a publicidade, e, aí, tem gente escrevendo livro para dizer que a publicidade já ficou para trás, há coisas para substituí-la, se fala em assessoria de imprensa, em criar eventos... Isso me preocupa muito. Acho que a grande característica da publicidade é conter sua própria vacina. Nesse sentido, eu defendo a publicidade em que o sujeito coloque um anúncio dele, nos moldes mais tradicionais. Eu faço o anúncio e assino embaixo: “Isso que você viu é publicidade”. Faço meu comercial de 30 segundos e ponho: “Volkswagen do Brasil”. Entendeu? Eu quis vender um produto para você. Disfarçar isso, ou essa mensagem entrar diluída, não; e nem falei de aspectos não muito éticos de jornalismo etc. A publicidade disfarçada de outras coisas, eu tenho cá minhas reservas com isso.
Jornalirismo – Você é um profissional que se tornou perito em fazer comerciais.
Ercílio Tranjan – É, minha carreira acabou voltada para a televisão.
Jornalirismo – E quais foram as pessoas que ensinaram isso a você? O Brasil não tinha uma cultura de filmes...
Ercílio Tranjan – O Sérgio Graciotti [um dos maiores criadores da propaganda brasileira, foi sócio e vice-presidente de criação da MPM-Casabranca] e o Armando Mihanovich [diretor de arte de origem argentina, que se juntou à MPM após a fusão dela com a Casabranca] foram as pessoas com quem mais aprendi. Tem uma época da propaganda brasileira em que a DPZ não era a referência em fazer comercial – com o Washington [Washington Olivetto], eles melhoraram. As referências eram duas: a Almap, onde tinha o Júlio Xavier e uma geração dos primeiros a fazer; e o Serjão e o Armando, que se juntaram à Lince e deram origem à Casabranca, que depois veio se juntar à MPM Propaganda. E eu acabei indo para lá.
Jornalirismo – Você vinha de onde?
Ercílio Tranjan – Fiquei 11 anos na Denison [de 1967 a 1978], depois tive uma curta passagem pela Lintas e fui para a MPM [ficou lá de 1978 a 1982].
Jornalirismo – Como foi esse aprendizado para os comerciais?
Ercílio Tranjan – Na verdade, para mim, foi anterior. Quando falo do Serjão, é porque era uma escola, porque eu via o que eles estavam fazendo. Mas, na Denison, a gente fez comerciais muito bons. O Ugo Giorgetti, que hoje é o diretor de filmes como Sábado, Boleiros, tinha essa coisa de pegar o popular; tem até hoje, hoje ele faz isso em longa-metragem. Mesmo no comercial, essa coisa de pegar o pequeno aspecto, um slice, um pedaço de vida, e saber pegar o humor disso. Colocar o povo na história, o cotidiano, transformar isso em graça. Isso, a gente fez muito. Tem filmes que considero muito legais, apesar da produção, que o comercial envelhece muito. O do Dodginho [o automóvel Dodge Polara], por exemplo, que tem um pai levando, e tem a filha atrás, com o namorado, o pai ia na frente, ele mesmo elogiando o carro, e vira para trás: “E tem um excelente espaço, não tem?” E os dois estão lá, se amassando e tal. E repete: “Não tem?!”. Ou seja, tem uma certa delicadeza e uma brincadeira com isso. O Ugo também foi parte importante. Ele é também um excelente roteirista. Tanto que, nos filmes dele, ele faz o roteiro, tem o dom de fazer o diálogo. Então peguei muito com ele, estava mais do lado. O Julinho Xavier, que fazia comerciais primorosos na Almap. Fez Danone etc. E depois, então, com o Armando e o Sérgio. E aí tive a oportunidade de trabalhar com eles e fazer comerciais para a Fiat. Foi quando ganhei meu primeiro Leão [Leão de Ouro no Festival de Cannes, pelo filme Fiat Itália, da campanha da MPM “Fiat, o que vai pelo mundo”, protagonizada pelo jornalista Reali Jr.]. Aquilo, por exemplo, era sério e brincadeira ao mesmo tempo. E tem uma história muito divertida, com o jurado francês. O Fiat França tinha ganhado prêmio também. E o comercial brincava com o mau humor francês. A gente sempre brincava com características de cada povo, o italiano ficava com aquele diálogo e tal: “Ah, é do Brasil?”. O avô fica mostrando uma foto, pega bem a cultura italiana. E, no da França, o Reali se jogava na frente do carro, e o francês freava e tal e perguntava: “O que você está fazendo?!”. Aí o Reali dizia que só tinha parado para saber o que ele achava do Fiat brasileiro. Então o francês diz que é muito bom, e vai crescendo no elogio, que a própria língua francesa permite, num tom cada vez mais raivoso: “É maravilhoso, é lindo e tem excelente freio, malheureusement, infelizmente” [risos]. Ele queria atropelar, porque o cara tinha se jogado. E o jurado francês ficou possesso: “Nós não somos assim!”. Quer dizer, ele deu o atestado. E o vencedor foi o Fiat Itália.
Jornalirismo – Você ganhou 11 Leões em Cannes, na categoria filmes. Acabou se especializando nessa área. Então, como é que se faz um bom comercial? Numa frase, assim: um bom comercial é assim, assim e assim. [risos]
Ercílio Tranjan – Eu estou tentando escrever um livro sobre isso e ainda não consegui [risos]. Acho que precisa pegar o cotidiano, o universal neste sentido, do que está na fantasia de todos nós, saber ver a verdade mais óbvia, que é um pouquinho do que faz o humor. Aí você inverte a câmera, coloca um pouquinho de cabeça para baixo. Saber ver sempre por um outro ângulo. Ou seja, você surpreende. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, tem que ter elementos do cotidiano, de populares que estão no seu universo, do seu lado, e que escapam de você. Cara, é muito difícil explicar com uma fórmula racional. Mas é assim, vou contar a você com um comercial que quase foi feito, nunca foi ao ar. Por coincidência, eu tenho uma história muito longa com automóveis, trabalhei dez anos para a Fiat, oito para a Volkswagen, fora Asia Motors, Chrysler. E tenho um comercial de que gosto muito, esse nunca foi feito, que era com o Piquet [Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1]. Para o lançamento do Gol 1.8. Você lembra de que o Piquet tinha fama de ser azedo? Ele não dava muita bola, ele era ele, um mau humor... Ao contrário do Senna [Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1], ele era o anti-herói do Brasil. Mas todo o mundo reconhecia nele um cara que entendia de automóvel e um campeão. Na verdade, o filme era simples, era um teste, era o Nelson Piquet testando o Gol 1.8. E só com lettering [letreiros]: “Estamos lançando o Gol 1.8. Chamamos o Nelson Piquet para testá-lo”. E vai dando, só com letreiro, as qualidades do carro, de 0 a 100 km/h em tanto, e mostrando o Piquet testando. Aí o Piquet sai do carro, vem vindo para a câmera, e um locutor, em off, pergunta para ele: “Então, Piquet, dirigir o Gol 1.8 (a gente falava que era uma grande emoção) não foi a maior emoção da sua vida?” “Não.”. Era só isso [risos], não, não foi a maior emoção da vida dele [risos]. E a Volkswagen era um bom cliente, tinha humor para isso. Engraçados, esses alemães. A Volkswagen permitiu a toda uma geração fazer anúncio bom, até hoje eles têm uma abertura.
Jornalirismo – E esse comercial acabou não sendo feito por quê?
Ercílio Tranjan – Acabaram optando por um outro. Disseram: “Não, o Piquet está fora, difícil achar”. Lembra do que eu estava falando antes? De não se levar tão a sério? Eu não posso ficar falando o tempo todo que o meu produto é genial: “Oh você, pobre mortal [Ercílio empola a voz, como se declamasse]”. É isso que eu estou sentindo hoje na propaganda. Sempre os produtos são maravilhosos. A propaganda lidava com a limitação. O Gol 1.8 é bacana, mas não é a maior emoção da vida do Piquet. Claro que não. Não é carro para correr. O comercial que saiu, aliás, era isso, outra vez falando: “Calma lá”. Era um carro de Fórmula 1 e o Gol 1.8. O Vinicius Galhardi dirigiu o comercial e foi também o garoto-propaganda. Ao lado do Gol 1.8, ele falava assim: “Este aqui é um carro de Fórmula 1. Este aqui é o Gol 1.8”. Isso, no autódromo de Interlagos. Aí ele começava a falar do Gol 1.8: “Tem um motor blá, blá, blá, blá, blá”. E falava o blá, blá, blá todo do carro. Aí olhava para a câmera e falava assim: “Para correr, esse aqui é imbatível”. E começava a falar do Fórmula 1: “Ah, para correr, é esse aqui” [risos]. Na verdade, eu estava brincando com o Gol. Falei assim: “Deram um tapa no motor, 1.8, mas não é para correr”. Ou seja, de novo, é saber brincar com o produto, com a sua qualidade...
Jornalirismo – E até com a sua fraqueza.
Ercílio Tranjan – Exatamente. Tem um outro filme, esse foi filmado, foi pouco para o ar, até gostaria de refilmá-lo. Filmamos com muito poucos recursos. Era o Passat, mudança de motor também, motor mais forte. Era assim: um Passat atrás de um caminhão. Falava: “Este é o novo Passat, com motor 2 não sei o quê...”. Ele está atrás de um caminhão, está numa pista única, está numa subida. Aí falava assim: “O Passat é um dos poucos carros brasileiros capazes de fazer esta ultrapassagem. E ele pode provar isso”. Então o Passat sai para cá, totalmente temerário, numa curva, vai para a esquerda, tem um caminhão lá em cima, no sentido contrário: “Ele pode fazer essa ultrapassagem, ele pode provar isso”. Aí o Passat vem para trás, o caminhão passa: “Quem tem um Passat não precisa provar nada para ninguém”. Olha como você consegue fazer graça e, ao mesmo tempo, falar: “Ninguém está aí para se matar”. Não vou vender para isso. É motor? Então me permite fazer uma ultrapassagem com mais segurança. Não em condições em que você não deva fazer uma ultrapassagem. Esse filme ganhou um prêmio no Fiap [Festival Iberoamericano de la Publicidad]. Mas desculpe-me estar falando para você de comerciais, é uma maneira de eu tentar responder para mim mesmo, que é o que eu ia fazer no livro que estou escrevendo e que uma hora sai. Ele cumpre um papel semididático e, ao mesmo tempo, fala da história de uma porção de pessoas.
Jornalirismo – Já tem um nome?
Ercílio Tranjan – O primeiro nome é Marcas e Cicatrizes. Ainda não sei se é definitivo. E tem uma idéia que ainda não foi realizada – na minha conta, teria coisa de uns 50, 60 comerciais. E, ao invés de usar fotograma e tal, até pela complicação, vou fazer de trás para a frente. Vou construí-los, pegar os comerciais feitos, que tenho, e que gente que trabalhou comigo transformou em storyboard [o roteiro desenhado cena a cena]. Como ele era na origem, antes de ser filmado. Resgatar o desenho, como era a cena. Porque as perguntas recorrentes são estas que você fez: o que é um bom comercial? O que é a boa propaganda? Perguntas recorrentes e quase irrespondíveis. E outra, de todo estudante: como é que você teve essa idéia?
Jornalirismo – Você pode respondê-la agora também [risos]. A idéia nasce do nada? Pesquisa-se muito?
Ercílio Tranjan – Nasce do briefing [do pedido de criação do cliente, das informações do produto a ser lançado, de certo desafio de mercado, de certo posicionamento novo de uma marca...], cara.
Jornalirismo – Quer dizer, nasce de um problema de comunicação.
Ercílio Tranjan – Nasce de um problema.
Jornalirismo – Essa coisa festivalesca não vem com problema nenhum: “Cria para Cannes aí”.
Ercílio Tranjan – Essa é uma das razões para o Brasil estar fazendo má propaganda. O fantasma fez um mal incrível, não só por ele ser mentiroso, quando você faz para Cannes, mas também por se achar que é boa propaganda, quando nem sempre é. Quer um critério básico? Anúncio: você tem que ver o trocadilho visual.
Jornalirismo – Para ser universal.
Ercílio Tranjan – Claro. Então a palavra dançou. E é uma mentira. Sei que tem jurado, em Cannes, que vota numa peça quando a entende. É bem assim: “Entendi aquele trocadilho”. Que o produto estava assim, queria dizer isso. Aí pega e acha que é bom. Está sendo prestigiada a má propaganda claramente. É um absurdo. Na hora em que o critério é esse, ninguém está mais minimamente preocupado em ler o briefing: “Ah, deixa eu traduzir isso aqui”. E pega a bula, pega o briefing e faz. Então, a televisão está infestada de coisa ruim, que é o briefing falado. Ou seja, ninguém pensa sobre aquilo. Porque aquilo é difícil de fazer. Ter que falar de determinada qualidade é difícil. Propaganda é aquilo que convence, persuade de alguma coisa. A gente tem que persuadir. Não é só fazer uma brincadeira. Uma brincadeira, se eu quiser fazer, vou fazer no Festival do Minuto, vou entrar em concurso de curta-metragem. Boa propaganda não é isso. Boa propaganda é aquela coisa de que a gente fala assim: “Pô, interessante isso, bacana. É melhor que a outra, essa marca me comoveu”. Que me leva a gostar, a preferir aquela marca, a ir à loja e pedi-la. Que a gente fale assim: “Tais qualidades eu quero”. O pessoal está reservando o talento para o Festival do Minuto, que, aí, eles mandam para concurso. E, aqui, fala: “Não, o cliente quer que diga isso”. Como se fosse ruim o cliente querer que dê as qualidades do produto. Ou seja, dissociou-se falar das qualidades do produto do que é boa propaganda. O que é festival é o que não tem nada a ver com as qualidades do produto. O fantasma faz mal à propaganda, ele acaba interferindo na propaganda real, na medida em que o meu critério for o de que só é bom aquilo que não me vende nada, que não me persuade de nada. Você entende que, assim, estou fazendo um desserviço à propaganda? Fica impossível, na hora em que eu tenho de dizer: “Por favor, diga que meu produto é transparente, é capaz de fazer isso, isso e aquilo”. Essa propaganda se torna malvista. Então, o que as pessoas fazem? Reservam seu talento para criar sem briefing, sem nenhum atributo de produto e, na hora de falar em atributo, faz uma coisa ruim, faz bula de remédio, em vez de pegar o atributo e transformar em boa propaganda. Só para arredondar um pouco, para isso ficar bem claro: os festivais se dizem de propaganda, mas, na verdade, não são mais. Tudo aquilo que menos atributo de produto tiver será melhor para ganhar festival. O que não é verdade. A minha verdade é a seguinte: eu tenho que fazer propaganda de um livro e dizer o que ele tem, convencer uma pessoa de que ele é um bom livro e que ele deve ir amanhã à loja comprá-lo. Tenho que falar alguma coisa desse livro. Então, não é totalmente livre, propaganda não é canção de ninar. Se bem que a canção de ninar tenha lá uma intenção, que é a de fazer uma criança dormir. Não é arte pela arte. Estão criando um disparate, o critério para concurso é uma coisa, o critério de propaganda é outro. Estamos cada vez mais perto do Festival do Minuto.
Jornalirismo – Do que os publicitários, no geral, têm se queixado é que as coisas boas, realmente criativas, às vezes nem saem da própria agência. E, quando conseguem sair da própria agência, vencer o seu chefe de criação, vencer o planejamento (que, hoje, praticamente se tornou um adversário, quase sem compromisso com a idéia, pelo menos em algumas agências), aí vão bater no cliente, no primeiro nível de aprovação, mas que vai ter que passar por um outro gerente, pelo gerente desse gerente, pelo gerente do gerente do gerente, o diretor desse gerente, até chegar a não sei quem, para que consiga passar, o que seria praticamente impossível. Então ficou essa coisa festivalesca, vamos ser felizes três meses por ano...
Ercílio Tranjan – Em festival.
Jornalirismo – Não sei se é isso, estou colocando como tema.
Ercílio Tranjan – Pode até ser. Eu não sei se os níveis de aprovação mudaram tanto. Sempre foi uma queixa generalizada. Acho o seguinte: se a gente dedicasse mais empenho ao nosso cotidiano, nós iríamos fazer do intervalo na televisão brasileira uma coisa mais agradável. O que está mais me chamando a atenção é que o Brasil está fazendo um monte de coisa para ganhar [prêmios] e cada vez ganha menos. Faz-se muito alarde, mas, na verdade, estamos ganhando muito menos prêmios do que ganhávamos. E ganhávamos com peças do dia-a-dia, anúncio que existia, filme que existia, que ia para o ar, que era feito por um briefing. Que respondia a uma necessidade de mercado, do consumidor.
Jornalirismo – E é curioso, porque houve um processo de profissionalização da propaganda. Antes, a sua geração, a geração imediatamente anterior e até a geração do Washington Olivetto não era de gente formada em propaganda e vocês eram grandes pensadores, pessoas comprometidas com a sociedade, que pensavam a propaganda, você é formado em ciências sociais. O que aconteceu? Hoje temos faculdades formando toneladas de gente. Quer dizer, se profissionalizou, mas piorou?
Ercílio Tranjan – Eu acho que nem é culpa das escolas. Quando era presidente do Clube [CCSP, Clube de Criação de São Paulo, de 1979 a 1981], criei alguns inimigos à toa, porque eu dizia que nossa profissão era técnica. Quando houve a briga pela exigência do diploma, eu falava: “Gente, não é possível. Eu conheço grandes redatores que são engenheiros, médicos...”. Ou seja, não acredito em que um sujeito, para ser bom profissional de criação, tenha necessariamente que ter o curso de comunicação. O curso de comunicação é bacana para formar um teórico em comunicação. Agora, a nossa função é técnica. Quanto mais formação a pessoa tiver, se tiver psicologia, filosofia, melhor. Melhor o entendimento do ser humano, da psicologia de massas etc. É uma coisa que ele pode se dar, vai fazer dele um profissional melhor. Mas eu era contra a obrigação. Aconteceu um negócio que acho que aconteceu com o jornalismo também: multiplicaram-se as escolas e se criou um mito de que nós, profissionais de propaganda, ganhávamos rios de dinheiro, quando era sempre uma elite.
Jornalirismo – Sempre foi uma elite que ganhou dinheiro com propaganda?
Ercílio Tranjan – Sempre foi. Ganhou-se bem durante muito tempo. O pessoal de criação era bem remunerado. O que é muito distante de ser rico ou qualquer coisa do gênero. Da minha geração, raríssimas foram as pessoas que ficaram ricas. É diferente ganhar bem de ser rico. E isso durou alguns anos. Começou-se a despejar muita gente, com a crença de que era essa a profissão do nosso tempo, as escolas se multiplicaram e não tem mercado. Tem muita gente que foi iludida por essa coisa de virar Washington Olivetto. Era um ícone e tal. Não era assim: “Quero ser redator”. Era: “Quero ser o Washington”. Era o brilho da profissão. A gente sabe que é um para 200.
Jornalirismo – A propaganda dava abertura, lembro da primeira geração da virada criativa, do Alex Periscinoto, da segunda geração e da terceira geração, que acho que é a sua, e muitas dessas pessoas vinham de baixo. Teve gente que entrou na propaganda como office-boy. E você, também batalhando...
Ercílio Tranjan – Eu precisava ganhar a vida, estudava à noite. Durante o dia, trabalhava no grêmio, era pago pelo grêmio da Maria Antônia [onde ficavam os cursos de ciências sociais da USP, Universidade de São Paulo, e onde Ercílio estudava]. Fazia as carteirinhas e tal. E, dali, o Chico Socorro [colega de classe que se encantou com um trabalho do Ercílio sobre o “Fenômeno Jânio Quadros”, trabalho aplaudido em sala pelo professor Francisco Weffort] me levou para a JMM. Quando fui ser tráfego [uma espécie de secretário da criação, uma função mais administrativa]. Tráfego, porque era a vaga que tinha. E, dali, tomei gosto pela coisa. Mas era isso mesmo: se começava como revisor; os diretores de arte começavam todos na prancheta, no estúdio, assistente; pessoal de atendimento vinha de ser assistente de contato [profissional que fazia o contato com o cliente]; as primeiras pessoas de planejamento vinham, quase todas, da área de sociologia ou psicologia.
Jornalirismo – Vi você dizer sobre a importância do pessoal de planejamento na comunicação. Mas de um planejamento que não venha dizer o que não se pode fazer, mas, sim, que ajude a construir alguma coisa.
Ercílio Tranjan – Que ajude a derrubar a barreira, não a colocar as barreiras. O grande planejador é o que descobre o caminho. Descobre a forma de remover o obstáculo. Quem, para mim, é uma expressão disso, apesar de ter trabalhado pouco com ele, é o Julio Ribeiro [que deixou a MPM-Casabranca para fundar a agência Talent]. Mas tem muita mais gente, como o Jaime Troiano. Era gente que trabalhou comigo, no planejamento, e ajudava, ao invés de ficar criando policies [estabelecendo regras] e obstáculos e barreiras, a falar assim: “Vamos tentar ver de uma forma que ainda não foi vista, para ultrapassar os obstáculos”. O planejamento não é para dizer o que não pode ser feito, é para descobrir uma nova maneira de fazer, um novo caminho. Pelo menos vislumbrar a saída para a criação chegar e dar a forma, pavimentar a estrada. Eu sempre trabalhei muito ligado ao planejamento. Acho isso fundamental. E acho que os melhores profissionais de criação são os que, ao criar, estão planejando.
Jornalirismo – Como é esse trabalho?
Ercílio Tranjan – É pensar um pouco mais do que simplesmente fazer um bom anúncio. É pensar se aquele anúncio está dando um caminho para a marca. Fazer um bom título é mais fácil do que ter uma bela idéia conceitual, que vai por uma estrada e fala: “Esta marca vai se caracterizar por isso”. Para citar coisas de outros, acho que do Newton Pacheco, aquilo do Tostines: “É mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho?”. É brilhante, é um caminho de planejamento. “Não é nenhuma Brastemp” é frase saída em pesquisa. Claro que isso é criatividade, pegar: “Opa, espera aí!”.
Jornalirismo – Essa frase da Brastemp então foi dita por um consumidor?
Ercílio Tranjan – Pescada, tchum: “Não é nenhuma Brastemp”. “Não é assim nenhuma Brastemp”, a frase original. Precisa ter quem enxerga. E são raras essas pessoas. A mina está aí.
Jornalirismo – Como é que se faz para essa idéia não se perder? Porque, hoje, planejamento e criação não se falam muito, é uma coisa meio separada. Às vezes, a pesquisa não chega, ou, se chega, já chega de terceira, quarta mão. A gente, assim, perde um pouco a noção do todo.
Ercílio Tranjan – Eu sempre procurei ter o planejamento do lado, nunca fiquei distante dele, não. O trabalho nosso no Rio de Janeiro [na Propeg, que virou depois Next/Quê, depois só Quê], para a Petrobras, por exemplo, a campanha dos 50 anos, foi feita totalmente do lado do planejamento. Pensando no que significava essa empresa no imaginário brasileiro, o que representava essa marca. Foi, realmente, um trabalho conjunto, planejamento e criação, para se chegar ao conceito “O que você quer sonhar agora?”. A campanha da Petrobras era muito maior do que a campanha de uma empresa. E era o momento de resgate da imagem brasileira. Era o primeiro ano do governo Lula [2003, primeiro governo Lula] e ainda não tinha as denúncias do mensalão... Era um espírito cívico, de o brasileiro correr atrás de sua auto-estima e tal. E a campanha da Petrobras jogou e mexeu com isso. Então a gente foi atrás, descobriu o primeiro funcionário da empresa. Foi uma coisa emocionante, a gente chorava junto. Enfim, era planejamento e criação lado a lado. Os meus embates nunca foram com o planejamento.
Jornalirismo – O pessoal de criação sempre reclama: “Esse planejamento...”. Tem uns que são ruins, mas devem ter alguma coisa para ajudar.
Ercílio Tranjan – Quando é planejamento pro forma, aquele que fica para levantar policies, eu não preciso dele para nada. Para levantar o que não pode, isso eu mesmo faço. Não preciso. Quero assim: “Me ajuda, pensa junto e vamos descobrir a verdade dessa marca”. Aí é legal. Porque, se eu descobrir a verdade, vou conseguir emocionar com essa marca, vou conseguir persuadir. Aí, deixa com a gente, que a gente sabe fazer anúncio. Até quando eu tive confronto com o planejamento foi um confronto legal. Do qual vai nascer alguma coisa. São duas verdades que se batem assim [Ercílio bate palmas, para simular o choque]. Também o cliente, quando tem essa visão, não uma visão autoritária, “Ah, eu sou o dono; portanto, não preciso te ouvir”, quando ele pega a verdade dele, porque ele também tem verdade, é positivo. Nós tendemos a ser donos da verdade. Eu me lembro do que o Serjão [Sérgio Graciotti] dizia: “A gente é muito coruja”. O cliente é coruja com o produto dele, a gente é coruja com o nosso, que é o anúncio. Se essas duas coisas se baterem, sai coisa boa, se não tiver ninguém autoritário. Porque, se for autoritário, ele manda. Em geral, quando se decide a coisa na base do “Eu mando”, fica a verdade de um só e, em geral, é ruim. Acho que esse é o lado pior da propaganda, quando se parte para uma decisão autoritária.
Jornalirismo – Você costuma dizer que seu período profissional mais feliz foi na MPM. Conta essa história, o que havia ali de fantástico.
Ercílio Tranjan – Tinha um atendimento que era dirigido pelo Henrique Funari, grande parceiro e companheiro, recentemente falecido, não faz nem um mês. Tinha o Tarcísio Blumer [diretor de atendimento na MPM-Casabranca] Era um pessoal de atendimento muito voltado para aprovar coisas boas. Eles tinham esse espírito, e que vinha de cima. Porque, ali, tinha havido a junção da MPM, que era o Petrônio [Petrônio Corrêa, o P da MPM], em São Paulo, com o Julio Ribeiro, o Armando [Armando Mihanovich] e o Pires [Antônio Pires, vice-presidente de atendimento]. Eles tinham essa visão de criação, de planejamento profissional. E o Petrônio era um grande fazedor de clima. Juntou-se a isso uma equipe inteira, e, aí, tudo vem junto. Eu contribuí também, como diretor de criação. Sempre a minha idéia foi a de proporcionar um ambiente divertido às pessoas, que se divertissem muito, que aquilo fosse muito leve para todo o mundo, que todo o mundo quisesse estar ali, que as pessoas todas ficassem felizes de dar idéias umas para as outras... Não se trancar, não ser um contra o outro o tempo inteiro. Por mais que existisse uma concorrência, a coisa do indivíduo, que houvesse aquele espírito de “Vamos todo o mundo resolver”. A gente era muito autocrítico, dava muita risada da gente mesmo. A gente falava: “Nós somos muito incompetentes. Não vamos ter nenhuma idéia...”. Todo o mundo participava, ia ver o produto do outro: “Pô, mas será que é isto? Será que não é?”. E juntou, tanto porque eles contratavam quanto porque eu contratava, gente que tivesse, como eu costumava dizer sempre: “Se eu tivesse que escolher entre um profissional sem talento e um profissional sem caráter, a vaga ia continuar em aberto”. Essas duas coisas têm que se conciliar, têm que andar juntas. Então foi um período muito feliz. Nasceu lá um monte de gente que hoje está aí, Adriana Cury... Tinha gente como o Gilberto dos Reis [redator]; o Juvenal [o redator Juvenal Azevedo, pai deste repórter do Jornalirismo] esteve um período menor, mas trabalhou nessa equipe; Ciro Pelicano [redator]; João Simone [diretor de arte]; o Hélio [Hélio Oliveira, diretor de arte], que hoje é meu sócio [na Ímã Propaganda]; o Feijão [o diretor de arte João Carlos de Souza Neto]; o Sylvio Lima [redator], que era assim uma entidade na nossa profissão, pelo espírito, pelo humor, pela irreverência; o Palhares [o redator João Augusto Palhares Neto]... Pelo amor de Deus, era um monstro. Naquela época, a gente podia ter muita gente, porque a remuneração das agências era maior. Então as equipes eram maiores, a gente podia dedicar mais tempo e mais gente talentosa. Isso é também uma coisa que abala hoje [a falta de tempo e de verba]. E também a gente falava: “Tem que ter tempo para nós”. Se você ficar 24 horas mergulhado numa agência, você tem pouco tempo para viver. E a verdade está no campo de futebol. Você vai buscar a idéia, ela está na rua. Andar, ver como o sujeito reage, como é que ele atravessa a rua... Tem que ter tempo para você. Eu acho que isso acabou um pouco. As pessoas ficaram se esgotando, a propaganda ficou se autocitando.
Jornalirismo – Isso resultou num empobrecimento?
Ercílio Tranjan – Resultou, sim. As pessoas viverem só para isso e se referirem só a si mesmas. A propaganda ficou autofágica. Só para voltar a esse momento da MPM. A gente tinha um tremendo cliente, que era a Fiat. Tinha também Walita... Eram clientes extremamente abertos e queriam muito bem essa equipe. Tinha uma relação muito boa e muito franca. O atendimento e o planejamento eram legais. Todo o mundo a fim de colocar um produto bom na rua. A pasta do atendimento era a nossa, porque o portfólio do atendimento, no fundo, é o nosso. Ele também tinha orgulho de chegar e falar: “Eu fiz esse filme”. Foi um período fértil. Agora, eu não desprezo outros, não. O da Almap foi um período muito bom [de 1982 a 1990]; na Denison, também foi bom. Mas os quatro anos de MPM foram assim especiais, um momento santo.
Jornalirismo – Nessa época da MPM, você era o diretor de criação. E você falou agora que tinha a preocupação de criar um bom ambiente, que fosse divertido para todo o mundo. E como é que você fazia para uma idéia avançar, quando o cara chegava com uma boa idéia?
Ercílio Tranjan – Era o estímulo constante à idéia que rompesse, que fosse nova. E tem uma história muito engraçada. Eu tinha um tucaninho na mesa... Essa história do tucano, acho que não dá para contar... É que envolve outras pessoas que não gostam dessa história. Bom. O Petit [Francesc Petit, da DPZ] foi o criador do tucano da Varig [que se transformaria no próprio símbolo da empresa]. E a gente brincava com isso, ainda antes da MPM, eu e o Sylvio Lima: “Todo o mundo na vida tem um tucano. Até o Petit tem um tucano”. O tucano era o sinônimo de coisa ruim. Então, quando vinha um anúncio ruim, a gente falava assim: “Esse aí é um tremendo tucano, heim, cara?”. A criação tinha me dado um tucaninho que andava. Então o cara vinha, mostrava o anúncio e eu soltava o tucaninho [Ercílio faz o movimento do tucano com os dedos, sobre a mesa, e ri]. E o cara: “Pô, mas isso é bom...”. E eu: “Não, não, isso é tucano”. Ficou essa brincadeira de tucano para cá, tucano para lá, o Washington ficou sabendo – e acho que contou para o Petit. Chegou um pôster para a gente, fim de ano, vinha impresso assim: “Tucano da Varig, criado por Francesc Petit, premiado no salão de não sei o quê da Varig, adotado como símbolo”. E dava o ano: 1950 e não sei quanto [Esta história, a da conquista, aos 18 anos, do 1o Concurso de Cartazes da Varig, de 1953, é assim contada no livro Propaganda Ilimitada (Futura), do próprio Petit: “Através de meus colegas [da agência Publicine], fiquei sabendo que havia um grande concurso de cartazes promovido pela Varig. Li o regulamento e às noites ficava até de madrugada tentando encontrar uma idéia, até que – esboços e mais esboços – cheguei a um de que gostei: um tucano vestindo camiseta listrada, chapéu de palha e uma vara de pescar. Esta era a minha visão do Brasil, com menos de um ano de estrada [Petit é catalão]. Apliquei todas as técnicas de cartazista que tinha aprendido com meus colegas da agência Clímax, mandei fazer dois bastidores e um quadro, como dos quadros tradicionais, com madeira boa, mogno. Comprei uma folha de papel alemão Shuelerhammer para guache. Umedeci cuidadosamente o papel, que estiquei e preguei no bastidor. Quando secou ficou um lindo tambor, sem nenhuma dobra ou ruga, liso, perfeito. Era assim que todos os cartazistas europeus apresentavam seus cartazes. Nesse fabuloso bastidor de papel executei meu cartaz com guache, copiando o pequeno esboço que tinha feito. Desenhei o personagem “Tucano”, o céu azul cobalto, o avião Constelation passando ao fundo, o lettering da Varig e a marca, tudo num só original, belíssimo. Embrulhei e junto com uma carta o entreguei na data marcada. Devo ser sincero, que a minha esperança era que fosse selecionado, jamais pensei em prêmio. Alguns dias da data do resultado final, dei uma passadinha na agência da Varig da rua Barão de Itapetininga e perguntei a uma moça pelo vencedor. A moça, gentil, me falou que não sabiam ainda, pois o ganhador deixou só o nome e esqueceu de deixar o endereço e telefone, só sabiam que era um tal de Petit. Quase morri de emoção, foi algo inexplicável, maravilhoso, que jamais esquecerei]. Ou seja, o tucano era bom. Era apenas por diversão. Então, as formas de entusiasmar eram as mais complexas. Eu sempre fui também aberto à crítica ao meu trabalho. Como todo mundo entrava na minha sala e falava assim, “Poxa, está muito ruim, isso”, falando de mim, do meu trabalho, eu sempre tive muita liberdade com eles todos. Ou de tucano ou de falar: “Pelo amor de Deus, cara, faz mais uns cinco, isso aí está muito ruim”. Ou: “Vamos pensar o seguinte: isso aqui está resolvido, até aqui resolveu. Agora vamos fazer o que quebra, o de que a gente vai ter orgulho de ver na rua, ou seja, o trabalho nosso e tal”. O que dava esse espírito, esse tom era um anúncio que a gente fez no Dia das Mães, eu e o Feijão: “Mãe, fui eu que fiz”. Era uma página com anúncios nossos, com anúncios da MPM: “Se o seu filho trabalha na MPM, pode ter certeza de que ele deu certo”. Enfim, havia aquela auto-estima legal, mas, ao mesmo tempo, ninguém era soberbo. A gente sempre falava: “Pelo amor de Deus, será que estamos fazendo certo? Será que está direito? Será que não está?”. Isso, acho, se perdeu.
Jornalirismo – Era o exercício da humildade.
Ercílio Tranjan – A gente não tinha essa idéia de que nós éramos ungidos. Nisso, houve uma transformação que dói um pouco. A gente não era ungido, estava ali no exercício de uma profissão que nos pagava bem, que nos permitia o exercício de um contato com o público, em fazer coisas comerciais e tal, mas eu não me achava genial. Quando eu ganhava um Profissionais do Ano [Ercílio foi eleito, em 1986, o Profissional de Criação do ano, no Prêmio Caboré; em 2001, ganhou o Prêmio Colunistas como Profissional de Propaganda do Ano do Rio de Janeiro; em 2002, foi escolhido, pela ABP, Diretor de Criação do Ano do Rio de Janeiro; no ano seguinte, em 2003, entrou para o Hall da Fama do CCSP] não me achava o maior gênio da humanidade. Se eu fosse gênio, eu não trabalharia em publicidade. A gente tinha consciência disso. Sem isso significar muito, porque hoje, se você fala isso, todo o mundo vem e fala assim: “Era um bando de gente que queria ser escritor”. Não era, eu nunca achei que pudesse ser escritor. Apenas eu tenho uma noção exata de que exerço um papel importante, que publicidade é uma coisa boa e importante e uma excelente profissão. Que, de repente, isso ganhou uma dimensão, publicitário começou a se achar um Deus, uma coisa do outro mundo. Acho que se perdeu um pouco o limite. E a gente tinha isso muito claro. Tinha os colegas das outras agências e a gente queria ouvir deles: “Você acha que está certo? Acha que não está?”. Quando você tem realmente uma equipe afetiva, em que todo o mundo se gosta, já é meio caminho andado. Porque era assim: gente que se gosta e gosta do que faz. Por quê? Porque toda a crítica, todo esforço o era posto para que um vibrasse de fato com o trabalho do outro, com o prêmio da agência. Apesar de ter o nome dele [o nome de quem criou a campanha/anúncio], e eu sempre tive muito cuidado com essa história de ficha técnica, a equipe se sentia co-responsável. E isso é uma coisa fundamental: manter esse espírito. E incentivar sempre. O Armando Mihanovich tinha, numa parede da sala dele, o Hall of Fame [Hall da Fama] e, na outra parede, o Hall of Shame [Hall da Vergonha]. E ele só punha anúncios nossos. A gente entrava lá e falava [quando via um anúncio no Hall of Shame]: “Pô, Armando, não está tão ruim, vai!”. E não era uma coisa punitiva. Era só assim: “Em vez de ficar falando mal do trabalho da agência do vizinho, vamos olhar para o nosso trabalho. Que nota a gente se daria”. Isso tinha muito.
Jornalirismo – Curiosamente, numa época em que se fazia tanta autocrítica, eram feitos os melhores anúncios.
Ercílio Tranjan – Eu acho.
Jornalirismo – Perdeu-se a humildade e perdeu-se um pouco da criatividade. À medida que a pessoa sobe no salto, ela fica mais alta que o outro e parece que não enxerga direito...
Ercílio Tranjan – É uma coisa muito feroz. Mudou a qualidade, é estranho. Não vou nem falar, porque, senão, fica aquela coisa saudosista, mas mudou o tipo de gente. Júri, por exemplo, era muito divertido. Claro que um ou outro queria que seu trabalho ganhasse, porque você acreditava nele e queria que fosse premiado, mas não era uma coisa assim de mal, sempre uma coisa de um contra o outro. Isso deu para sentir, essa mudança eu peguei.
Jornalirismo – Você pegou, mas acabou se mantendo na propaganda. Muita gente da sua geração não ficou. Acabou sendo encostada, nesse processo de juvenilização excessiva. Parece que uma geração não passou o bastão para a outra... Eu tenho essa impressão.
Ercílio Tranjan – É a impressão que eu tenho também. Foi meio abruptamente, corta, corta, corta. E, nesse meio tempo, se perdeu muita gente boa, se perdeu muito talento, se deixou de ouvir muita gente que teria o que dizer... Eu acho que quem sabe fazer direito é quem sabe abrir espaço para quem vem, mas sabe respeitar os que vieram antes. Saber respeitar o que veio antes e abrir espaço para o que veio depois. Acho que é um pouco isso que faz manter o diálogo. Mas aconteceu, dá para sentir. Foi encerrada precocemente muita carreira. Eu vi, por exemplo, no Rio de Janeiro [no período em que Ercílio esteve à frente da criação da Propeg, depois renomeada Next/Quê, depois só Quê, de 1999 a 2005]: volta e meia me valia de freelancer do Alcides Fidalgo [o redator Alcides Fidalgo, criador de campanhas premiadas e famosas, como a “Vem pra Caixa você também”, quando dirigia a criação da MPM-Rio]. Uma figura, foi um dos meus instrutores. Foi o meu primeiro diretor de criação. Uma coisa que não se faz mais: ele tinha um cuidado com o texto, e o cuidado de ir atrás da informação. Ele dava a você uma aula, se você pedisse. E tinha até que dizer: “Ô, Alcides, pára de ser chato”. Um anúncio de sapato: ele ia entender daquilo ali. Que sapato era aquele, como é que era feito, quanto, que mercado etc. etc. E eu o usava e ele estava em plena forma. Fez coisas muito boas para mim.
Jornalirismo – Gostaria de falar um pouco do CCSP, Clube de Criação de São Paulo. Você foi o primeiro presidente eleito do Clube, em 1979. E uma das suas medidas foi instituir a eleição direta para o júri do Clube. Acabou com o sistema de indicação.
Ercílio Tranjan – Começamos a fazer votação, mas, até hoje, não sei se foi bom. Foi uma tentativa de evitar que se formassem panelas, de um favorecer o outro, para ser favorecido. Um assunto eterno. Mas nunca se achou uma solução boa para isso. Nossa profissão é a única que é unida pela desunião. Durante um tempo [a eleição direta], funcionou. Mas, aí, ficou quem tinha mais amigo. As agências que tinham mais gente, maior colégio eleitoral, elegiam. Era tudo muito complicado. E a gente tentou limitar, só um por agência, só dois por agência. Não sei se tem forma boa. O Sylvio Lima é quem estava certo: ele se recusava a entrar no júri, dizendo que não queria julgar ninguém, o trabalho de ninguém; era uma postura.
Jornalirismo – E as atividades do Clube de Criação? O Clube, naquela época, tinha uma postura muito ativa, o aspecto político forte, apoiou a campanha pela Anistia [pela anistia total e irrestrita aos presos políticos e aos exilados]...
Ercílio Tranjan – É uma época. É quase inevitável. O Clube se colocava e se inseria no ambiente em que estava, na sociedade. A gente viveu aquele tempo terrível da ditadura [ditadura militar, de 1964 a 1985]. Nós chegamos a ter censura na propaganda, de as peças terem de ser apresentadas antes. Uma maluquice. Mandar roteiro... Durou pouco, porque se conseguiu contornar. Mas teve isso. E teve episódios dantescos, bizarros. Eu vivi um deles. Aliás, dois. Um outdoor nosso, da Denison, que era “O salsicha”. Que era a única salsicha com sotaque alemão e tal, da Swift. Tentaram impedir a veiculação porque estava difundindo mal a língua portuguesa. E “A invasão dos vermelhos”, quando se fez o orelhão [o telefone público] da Telesp, que era conta nossa, e era vermelho porque o orelhão era vermelho. Esse anúncio deu uma polêmica grave, a Telesp era estatal. Houve interferência de general. E a gente: “Então o que a gente faz? Invasão dos verdes?”. Isso nos obrigava, até porque a gente era vítima direta, a participar. Fora isso, porque as pessoas tinham uma formação, todo o mundo acreditava, tinha uma visão democrática e tal. Isso forçou o Clube de Criação a se posicionar. E quem saiu na frente da questão da Anistia foi o Clube de Criação do Rio de Janeiro. Os dois Clubes de Criação, do Rio e de São Paulo, foram, inclusive, os primeiros a fazerem um anúncio pela Anistia na forma propugnada pelo general Peri Bevilacqua. Fizemos um manifesto. Aí, anos depois, participamos das Diretas-já. Foi um momento, um momento de ebulição da sociedade brasileira. Não é nada além disso.
Jornalirismo – Mas o Clube de Criação acabou perdendo, com os anos, um pouco de sua representatividade entre os publicitários. Existe, hoje, uma nova tentativa de deixar o Clube mais atuante [com a eleição, no dia 30 de novembro último, de Marcello Serpa, da AlmapBBDO, para a presidência]. Como você analisa?
Ercílio Tranjan – Difícil falar, porque eu me afastei muito. Também se abriram espaços para outras manifestações. A sociedade, hoje, se manifesta em outros locais. O Clube, naquela época, era uma saída possível. Então não critico muito por aí, não. Acho, talvez, que o Clube devesse atender ao anseio mais geral, representar mais o pessoal de criação. Acho que o Clube, hoje, se pauta muito pelo Anuário – e esse sempre foi o meu medo. Por exemplo, acho que estamos muito distantes dos problemas que a profissão está vivendo, dos problemas que as agências estão vivendo. Acho que a gente devia abrir espaço para discutir isso. Há um problema de mudanças tremendo no ar, e eu acho que a criação está muito apática, muito afastada, muito alienada do que está acontecendo no cotidiano de uma agência. Aí eu passo por remuneração, novas formas de ver a profissão, novas saídas fora da publicidade convencional etc. etc. É um momento traumático, de mudanças muito profundas, que não deveríamos estar ignorando, mas acho que estamos, infelizmente.
Jornalirismo – O livro que você organizou, das frases... [É Só Propaganda – 75 frases que viraram anúncios. Ou vice-versa, lançado em 2006, com frases de anúncios que extrapolaram, pela qualidade, os limites da propaganda.]
Ercílio Tranjan – Um fracasso. O maior fracasso da história [porque a apresentação escrita por Ercílio saiu com problemas de edição e frases desconexas, o livro foi retirado de circulação; mas pode voltar em breve, em nova edição]. Mas eu fiz uma palestra em Santa Catarina, usando-o, e foi muito bacana. Porque são frases que vigiam fora do contexto para o qual elas foram criadas. Ou seja, quando o publicitário foi um pouquinho além, quando ele se superou.
Jornalirismo – A publicidade que criava sabedoria, estamos falando disso, não é? Uma propaganda que tinha tanta capacidade de síntese, de inteligência, que ela transcendia o anúncio.
Ercílio Tranjan – Exatamente. Transcendia o anúncio e o momento em que foi feito. Ela lidava com valores culturais universais. Mas tem coisas recentes, viu? Vai diminuindo, mas tem um pessoal aí que se mantém. O que acontece é o seguinte: óbvio que, na hora em que se foi abdicando do título escrito, vai ficando mais raro. A coisa da frase. E eu falava no livro: de que, às vezes, nem sabia dizer se aquilo era grande publicidade, e, em geral, era, porque conseguia apropriar, para o produto, um pensamento que era muito maior do que um pensamento publicitário.
Jornalirismo – Propaganda que informava, esclarecia...
Ercílio Tranjan – Ou não. Que dava um cinismo total. Uma irreverência absurda. Um humor maravilhoso. E virava alguma coisa ligada àquela marca. Tem coisas maravilhosas, lá.
Jornalirismo – A gente já falou aqui do texto. E você é um redator de origem. Gostaria de retomar um pouco isso. O texto, com aquela coisa festivalesca, do trocadilho visual, perdeu um pouco do seu espaço. Acho que o sonho de alguns é fazer um anúncio que não tenha texto algum, apenas uma foto, ou ilustração. Mas não se resolve assim, não é? Onde é que fica a persuasão?
Ercílio Tranjan – Eu sempre digo: “Ah, tá. Mas eu quero saber como eu vou persuadir alguém a aderir a essa causa”. A catequese, infelizmente, queiram ou não, requer palavras. É um pouco mais profundo do que simplesmente uma boa ilustração, uma ilustração interessante. “O.k., é interessante, mas e aí? Por que eu devo aderir à sua causa ou ao seu produto ou pagar mais pela sua marca do que pagar menos?”. Eu tenho que persuadir você. E, aí, eu vou gastar um pouco mais de latim. Uma coisa é seduzir você porque eu sou bela, ou porque eu sou bonito. Outra coisa é porque, agora, eu preciso ganhar, conquistar você. Essa é uma coisa um pouco mais profunda. Infelizmente, o texto está sendo tratado como commodity (como produto básico, como se todo o mundo pudesse oferecer da mesma forma), e nós estamos aceitando. O redator está assim: “Ah, tanto faz... Qualquer um escreve”. Escrever virou commodity e não é bem assim. Tem diferenças. Tem gente que sabe colocar o verbo preciso, achar o adjetivo exato. E isso acaba causando uma brutal diferença, de que, espero, a gente se dê conta.
(entrevista do guilherme azevedo para o jornalirismo, que ao contrário da nossa imprensa especializada não se especializa na cobertura lambe-cu)
in tempo. a entrevista acima faz parte do conjunto de entrevistas - com gente que sabe o que diz(e o que faz) do livro propaganda popular brasileira, do mesmo jornalista, edição do senac. eu não recomendo pra ninguém virar a fuça. mas se você for minimamente esperto, irá atrás.
sábado, janeiro 17, 2015
pedir conselhos ao sebrae pra quê ? para eles desfiarem a catilinária de sempre ?
"A compra foi realizada por impulso, sem pesquisa de mercado ou planejamento. “Tem coisas legais que queremos ver feitas. Se eu fosse visar o lucro, não trabalharia nesse mercado.” Varella tem 29 anos e acredita que as bancas são um importante espaço de interação urbana, de convívio social. E aos poucos ele tenta cumprir essa missão: conectar a Banca Tatuí, como passou a chamá-la, às atuais tendências. Terá um site próprio, está nas redes sociais, servirá café aos clientes e, enquanto este texto era escrito, ele modificava a identidade visual, composta de módulos que simulam caixotes de madeira, como em bancas do passado. Haverá um pequeno jardim sobre o teto".
http://www.cartacapital.com.br/revista/832/um-lote-na-tatui-3069.html?utm_content=buffere59a5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/revista/832/um-lote-na-tatui-3069.html?utm_content=buffere59a5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
quarta-feira, janeiro 14, 2015
bad news, good news? maybe not, maybe yes ou je suis é o caralho!
Mantive, durante anos, na sala do meu escritório uma capa da revista Time retratando centenas de corpos espalhados no chão de Ruanda, vítimas do genocídio perpetrado pela maioria hutu contra a minoria tutsi em 1994. Nela, pessoas procuram por parentes e aves procuram por almoço.
O título era algo como “Este é o início dos últimos dias, o apocalipse'' – talvez uma tentativa de chamar a atenção dos Estados Unidos e Europa para o massacre através de um elemento simbólico que está no alicerce de sua fundação: o julgamento final do Novo Testamento.
Mas não era o começo do fim, apenas mais um expurgo – tanto que, após os 800 mil mortos em Ruanda, tivemos tempo de matar mais 400 mil no Sudão.
Essa capa era um lembrete para me empurrar para fora da zona de conforto. E também uma verdade incômoda. Em 1998, quando estava cobrindo a guerra pela independência de Timor Leste, onde o exército indonésio matou – de bala ou de fome – mais de 30% da população da ilha, um vendedor me disse, ao saber de onde eu era, que ficava feliz pelo Brasil, visto como um grande irmão lusófono, apoiar a luta.
Não tive coragem de dizer a ele que o meu país nem sabia de sua existência e que se aqueles mauberes pardos vivessem ou morressem, praticamente nenhuma ruga de preocupação seria produzida. Duvido que entre vocês, leitores, muitos tenham ouvido falar do Massacre do Cemitério de Santa Cruz, em Dili, capital de Timor. Imagine quantos massacres mais, mundo afora, acontecem invisíveis.
Por que relatamos tão pouco mortes nesses locais? A discussão faz parte de alguns debates acalorados em jornalismo. Isso é de interesse público? Do nosso público? As pessoas se interessam em saber sobre isso? Como as pessoas vão se interessar sobre isso se não as informamos com a devida importância? É possível ter opinião formada (não preconceito de internet) sobre aquilo do qual nunca se ouviu falar? Enfim, “Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais''?
Some-se a isso alguns elementos. Na teoria, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos temos direito à dignidade por termos nascido humanos. Na prática, a vida de não brancos vale menos que a vida de brancos. E a vida de ricos vale mais que a vida de pobres. E as das mulheres menos que as dos homens. Simples assim. Se essa vida for de religião que cause estranhamento aos olhos ocidentais, pior ainda.
Outro elemento é a justificativa cultural, de que mortes em Nova Iorque, Roma, Paris e Londres causam mais impacto porque estão mais “próximas'' de nós. Elas aconteceriam no mesmo “caldo cultural'' em que estamos inseridos, com o qual temos uma histórica troca e convivência mútua e através do qual construímos nossa sociedade.
Sabemos quem são e como vivem e trabalham os moradores dessas cidades. E, a partir desse conhecimento, geramos empatia: nos projetamos no outro, entendemos a sua dor e conseguimos até senti-la.
Sim, mas se dividimos elementos simbólicos com a “metrópole'' também temos elos com as outras “colônias'', que passaram por processos históricos semelhantes aos nossos e, como nós, têm que pagar, até hoje, seus tributos. Seus problemas econômicos e sociais são semelhantes e, não raro, suas dores também. Mas damos as costas ao Sul e nos projetamos apenas ao Norte, sonhando, talvez um dia, em sermos reconhecidos como parte da mesma civilização ocidental da qual não fazemos parte.
Não é inato um jovem brasileiro se interessar mais por Miami do que por La Paz. Ele aprende isso. Da mesma forma que aprende que a África, boa parte da América Latina e o Sul da Ásia são locais em que a vida não vale muita coisa, em que selvagens se matam desde sempre, como se as marcas da colonização e os processos políticos e econômicos globais, somados à ignomínia dos seus líderes locais, não valessem de nada.
Se eles tivessem oportunidade de conhecer o outro, as coisas seriam diferentes.
Uma menina-bomba, com cerca de dez anos de idade, teria se explodido, neste sábado (10), levando 20 pessoas consigo em um mercado na cidade de Maiduguri, norte da Nigéria, área de atuação do Boko Haram – milícia fundamentalista que deturpa os ensinamentos do islamismo em sua luta por poder. Ganhou pouca atenção no noticiário.
Da mesma forma, provavelmente você nunca ouviu falar de Ricky.
Tive o prazer de conhecê-lo há alguns anos. Sua história é incrível. Ele foi raptado e escravizado quando criança pelo Exército de Resistência do Senhor, em Uganda – um grupo fundamentalista que deturpa os ensinamentos do cristianismo em sua luta por poder, liderado por Joseph Kony, que se dizia porta-voz de Deus. Os meninos passavam por lavagem cerebral para se tornar soldados e, as meninas, para servir de escravas sexuais. Ele conseguiu fugir, graduou-se e criou a Friends of Orphans, uma organização não-governamental que luta para reintegrar esses jovens à sociedade.
Disse-me que não há como alguém conhecer uma criança que foi escravizada para matar e morrer e aquilo não mudar a vida dessa pessoa definitivamente. Porque o relato levaria a perceber que todos aqueles que matam em nome de Alá ou Jeová, na verdade, não acreditam neles. E que mesmo esses “combatentes'' não são bestas-feras, mas pessoas transformadas em máquinas de guerra. Às vezes em nome daquilo que enche o tanque de nossos carros, às vezes em nome daquilo que brilha em dedos e pescoços.
Entramos na rede e, em um pé de página, a Anistia Internacional denuncia que os açougueiros do Boko Haram podem ter matado centenas, em sua maioria mulheres, crianças e idosos, na Nigéria. Faltam braços para apurar e checar a informação ocupados com outros assuntos . Alguns importantes e que também são de interesse público. Outros, nem tanto.
Temos afinidade com aquilo que nos é mais próximo ou que desperta determinados sentimentos. Entendo que a libertação de 150 escravos que sangram na Amazônia para produzir boi que muitos nem sabem como vira bife choca menos que o resgate de um jovem sequestrado em nossa cidade.
Mas todos sabem o que é uma criança. É duro, portanto, imaginar que não desperte sentimentos. Talvez isso ocorra por banalização dessa violência. Talvez por um ato de fuga consciente ou inconsciente diante da crença na incapacidade de fazer qualquer coisa para resolver o problema – mesmo que a indignação com a história de vida daquela criança africana possa te levar a ajudar na melhoria da qualidade de vida das crianças que estão ao seu lado.
Talvez a resposta resida no fato de que uma criança nua, exausta e com olhar perdido numa cama na beira de estrada depois de uma hora de sexo forçado ou coberta de sangue após um dia de confronto armado ou explodida em mil pedaços após um ataque suicida não é uma coisa fofa de se ver. Pelo contrário, para muitos é tão repugnante a ponto de transferirem a culpa pelo ocorrido para a própria vítima que “se deixou ficar naquela situação deplorável''.
A discussão não é apenas sobre a distante África, mas também sobre as periferias de nossas cidades que ficam logo ali. Em São Paulo, no Rio e em tantas outras, há uma matança de jovens, negros e pobres – segundo as estatísticas do poder público. Mas desde que seu sangue não respingue nos outros, tudo bem.
Não estou comparando tragédias pelo número de mortes, uma vez que uma única morte pode compor uma tragédia. Mas a indignação por algo não exclui a indignação por outra coisa. E jogar para baixo do tapete os incômodos que também dizem respeito a todos nós, não fazem eles desaparecerem.
Portanto, busquem informação na internet para além de sua zona de conforto. E exijam de nós, jornalistas, que tenhamos coragem de oferecer informação que as pessoas não querem ler a despeito da audiência, da circulação e de outras formas de “medir'' o interesse público.
Por fim, dei de presente a capa da revista para uma amiga que estava em seus primeiros passos no jornalismo. Não que eu não precise mais do lembrete, a ética é o exercício diário da memória. Mas aquilo é muito forte para ficar na memória de uma pessoa só. Torço para que a geração dela, inspirada em nossos erros e acertos, seja melhor que a nossa.
Em tempo: Há boas coberturas com olhar brasileiro sobre essas regiões do planeta. Sem demérito aos demais colegas, destaco as reportagens sobre a epidemia de ebola em Serra Leoa, tocadas pela repórter especial Patrícia Campos Mello e pelo repórter fotográfico Avener Prado, ambos da Folha de S.Paulo.
(por que há tragédias e mortes que dão audiência e outras não ? no blog do sakamoto)
billy bones
19 horas atrás45 mil soldados americanos morreram no vietnam, de 63 a 75, mais ou menos; não chega nem perto dos 50 mil brasileiros assassinados por ano. desses, nosso governo também não quer saber.- Responder
- 0
- Denunciar
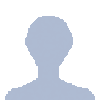
Marcio AR
21 horas atrásPost excelente, Sakamoto. A lista de injustiças não divulgadas é simplesmente gigantesca: o que se fala na mídia da República do Congo, cuja capital, Kinshasa, hoje é considerada a capital mundial do estupro? E dos crimes que os católicos cometem contra muçulmanos na República Centro Africana? Ou das atrocidades do Estado Islâmico no Iraque e Síria, contra cristãos e jazidíes? Só neste ano foram 90 mil mortos na Síria, segundo o Observatório de Direitos Humanos Sírio. A lista de atrocidades não pára. A (dura) verdade é que o terrorismo na França serviu para chamar a atenção do que está acontecendo naquela região onde há um vazio de poder (inclua-se aí a Líbia, completamente abandonada e destroçada desde a intervenção da OTAN em 2011). A Primavera Árabe foi uma das maiores farsas do século, e não serviu para absolutamente nada, exceto para aumentar o caldo de terror dos fanáticos e mercenários de todas as tendências.- Responder
- 0
- Denunciar

Alan Bastos
ontemAlguém se lembra do caso João Hélio, menino de classe média morto no rio? Na missa de 7º dia, igreja lotada com pessoas carregando cartazes pedindo justiça para o menino. Alguns dias depois de sua morte, uma garota negra, morreu num tiroteio na favela em que morava. Na sua missa de 7º dia, na mesma igreja, só a família e alguns políticos no altar e orgãos de imprensa. A igreja estava completamente vazia. Ninguém carregou cartaz pedindo justiça pela morte da garota. Esse é o Brasil.- Responder
- 0
- Denunciar

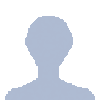
Marcio AR
21 horas atrásAmigo, que tal ter algo de consistente a dizer a respeito do post -que é ótimo, por sinal- ou simplesmente se eximir de agredir pela mera satisfação de agredir?
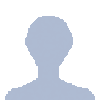
Jose AJS
ontemEu faria a seguinte pergunta: o que o povo e o governo nigerianos fizeram para que este massacre ganhe a importância que deveria ter na mídia internacional? Na França, apesar do número infinitamente menor de vítimas, as imagens foram gravadas (o que aumenta o "interesse" do público) e o povo mostrou sua indignação ocupando as ruas. Não seria esse um dos fatores que aumentam a importância do fato? Vários veículos também informaram sobre o massacre na Nigéria, mas nenhum comentário sobre a reação local a respeito, seja da população ou do governo.- Responder
- 0
- Denunciar
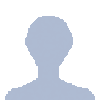
Aruan
ontemSakamoto, o fomento do Governo Federal nos últimos anos em relação às lideranças nacionais não foi acidental. O CADE, órgão que regulamenta a questão, permitiu tais políticas de incentivo (bem como as fusões ocorridas) para que o empresariado interno pudesse concorrer com o internacional. A própria AMBEV foi concebida neste conceito, bem como a união da perdigão e da sadia. Se estas medidas não fossem tomadas, o mercado internacional aniquilaria o nacional. Se elas ainda são necessárias, ou se são justas com o consumidor, daí o buraco é mais embaixo.- Responder
- 0
- Denunciar

rolfmuller54
ontemInteressante também, ninguém fala sobre a guerra que a França trava em Mali para garantir o "Yellow Cake" para suas usinas nucleares. Houve uma votação para proibir munição enriquecida com urânio. 4 países votaram contra: França, Inglaterra, EUA e Israel, apoiando esse terrorismo contra o Iraque, Afeganistão e usado também na guerra da antiga Iugoslávia. Não vi uma única manifestação contra esse crime contra a humanidade. Estou de saco cheio de hipocrisia e desse sistema de dois pesos, duas medidas. Para quem quiser ver um documentário sobre a real situação no Iraque pós guerra, que procure no youtube o filme chamado "Deadly Dust".- Responder
- 3
- Denunciar

Pro PA Ganda
ontemEngraçado que se não fossem os 12 mortos na França voce nem estaria tocando nesse assunto. Oportunismo pra todo lado- Responder
- 0
- Denunciar
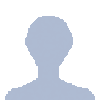
MISAB
21 horas atrásAcho que é pra vermos como a mídia manipula, e como é vendida.Hoje morreram 10 na Ucrânia e 5000 durante 2014 até agora. Isso não é terrorismo. Isso não dá manchete. Isso é briga de amigos...Mas a caricatura do profeta , que faz com que alguns fanáticos se aproveitem, isso dá manchete, e chama líderes do mundo inteiro. Africa, Siria, Ucrânia, isso ninguem quer saber...
Assinar:
Comentários (Atom)



